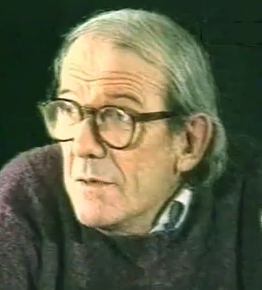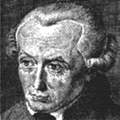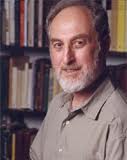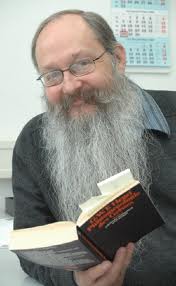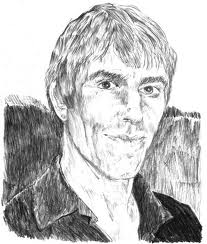Breves
Observações sobre Normatividade e Naturalismo


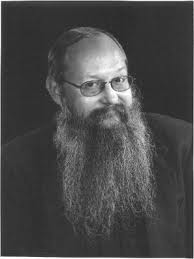


Nythamar de Oliveira, PUCRS / CNPq
Neurophilosophy Seminar (Spring 2013, PUCRS)
Mini-Curso "Habermas: Normatividade, Naturalismo e Filosofia Social" PPG-Filosofia UFC, Fortaleza, 31/5-1/6/2012
1. Há pelo menos três acepções ou definições reconhecidamente correntes
do que seja normativo:
N1 (normatividade legal): O normativo é o que prescreve, como uma
prescrição, em contraposição ao que é descrito numa descrição de um estado de
coisas.
Por prescrição geralmente entendemos o que autoriza de modo
performativo, como uma lei, uma sanção normativa ou algo que autoriza ou
desautoriza a fazer algo, como, por exemplo, parar no sinal vermelho, seguir as
leis de trânsito ou apresentar uma receita médica ao farmacêutico para comprar
um medicamento na farmácia. Tal acepção legal tem um caráter performativo
inquestionável (por exemplo, as leis devem ser cumpridas, seguidas) e graças a
essa força normativa podemos seguir no sinal verde, assumindo que os outros
devem sempre parar no vermelho, assim como esperamos que o farmacêutico nos
atenda e que nos mediquemos com a devida autorização de um médico credenciado.
Idealmente, a norma prescreve o que deve ser, o que muitas vezes não
corresponde ao que é. Nem sempre seguimos as leis de trânsito ou muitas vezes
não tomamos o remédio como deveríamos. Isso fica muito claro no uso legal e
jurídico do termo, já que o próprio Direito se define como um conjunto de
normas impostas pelo Estado, onde "normas" nos remetem a regras,
princípios e leis básicos. Segundo Hart, o Direito somente pode ser justificado
nos termos prático-normativos que definem os próprios arranjos institucionais e
as fontes de obrigação, deveres, direitos, privilégios e responsabilidades das
relações sociais num Estado constitucional.(Hart, 1997) Rejeitando a concepção
de lei como mandamento divino ou como coação legítima absoluta, Hart oferece
uma crítica sociológica de concepções tradicionais de normatividade jurídica,
tais como eram compreendidas a partir de leituras de Kelsen e Austin. Se as
concepções jurídico-políticas de legitimidade, soberania ou autoridade permanecem
conceitos teológicos secularizados ou não, a normatividade legal prescreve e
exerce com uma certa naturalidade a sua função de força vinculante que exige
respeito à obrigatoriedade das leis vigentes. Decerto, o problema do
"normativismo" (normas nos remetem sempre a outras normas mais
básicas) já havia sido tematizado por Hans Kelsen no início do século passado,
partindo da instigante constatação de que o direito pode ser tomado tanto num
sentido descritivo (de normas positivadas, por exemplo, nas diferentes
codificações jurídicas da constituição e legislação vigentes) quanto num
sentido prescritivo, que idealmente nos remeteria a uma norma básica (Grundnorm), mais fundamental e destarte
primordial, focando no aspecto unicamente formal de subordinação à regra
fundamental. (Kelsen, 2000)
N2 (normatividade lingüístico-semântica): Normativo é o que diz respeito
a normas ou padrões de gramática (lingüística) ou de significado (semântica ou
pragmática), inevitavelmente contrapondo um nível do que deve ser ao do que é
efetivamente.
Ao tratar de
"normas fonéticas" em seu texto seminal contra o programa normativo
da epistemologia, Quine inaugura um programa naturalista que faça jus ao que
efetivamente acontece quando usamos
palavras para nos referir a estados de coisas. Assim, quando alguém pronuncia a
palavra "vermelho" ("red"),
por exemplo, observa-se uma normatividade lingüístico-semântica que permite,
nas práticas cotidianas de conversa e de comunicação, uma certa determinação do
sentido tencionado ou referido, a despeito de indeterminações ou variações do
que é sensorialmente percebido, falado e ouvido, em termos de pronúncia,
sotaque ou sons produzidos, para além de pressupostos de analiticidade,
sinonímia e significação. (Quine, 1960, p. 85)
A ideia quineana de uma Epistemology Naturalized, como puro eliminacionismo, ou a tese de
que o naturalismo elimina o normativo em favor do puramente descritivo,
permitiria, de resto, a emergência de novos problemas no campo epistemológico
da normatividade, na medida em que crenças verdadeiras devem ser suscetíveis de
serem justificadas, assim como a própria ciência, sem necessariamente recorrer
a uma analogia com a ética normativa ou argumentos analíticos. O que se observa na
fonética, segundo um naturalismo forte, vale mais ainda quanto à
gramaticalidade da linguagem ordinária no mundo da vida. Quando dizemos
correntemente no Rio Grande do Sul "tu fez" ou "tu falou"
ao invés de "tu fizeste " ou "tu falaste", estamos apenas
tacitamente assumindo um modo de falar que alguém pode descrever, em termos
antropológicos, sociológicos ou empiricamente observáveis, como sendo típico
desta região, no Sul do Brasil. Ora, neste país fala-se supostamente uma língua
portuguesa normativa, i.e., que tem uma gramática normativa. Não se trata de
apenas descrever como as pessoas falam em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul
em geral, ou se muitas pessoas não conjugam verbos comme il faut ou não fazem a devida concordância verbal na
comunicação cotidiana e no falar coloquial, ao contrário das diferentes
atitudes de familiaridade ou de estranhamento com relação a usos da linguagem,
desde uma perspectiva intersubjetiva do mundo da vida. Neste caso, podemos até
contrastar algo que pode ser descrito como uma forma de comportamento social
coletivo de uma população, falantes que falam de certo modo, dentro de um
contexto de população maior onde se fala a mesma língua, com diferentes
expectativas normativas e competências normativas.
N3 (Normatividade ético-prescritiva): Normas sociais e normas de comportamento
moral são modos de comportamento, obrigações, deveres e permissões que nos
atribuímos em nossas práticas sociais cotidianas, por exemplo, quando pagamos
pelo almoço ou acreditamos que temos permissão para buscarmos a felicidade sem
fazer mal ou causar danos a outrem. Concepções e acepções mais abrangentes de
normas sociais e de normas morais configuram um campo de normatividade
ético-prescritiva.
Para além da normatividade legal e lingüística, nos deparamos com uma
concepção de normatividade ético-social, no interior da qual podemos distinguir
o que seria apenas um convencionalismo ou etiqueta social (costumes, ethos social, comportamento social) e
uma forma de obrigatoriedade de cunho ético-moral, que pode ser supostamente
justificada em termos religiosos ou puramente racionais (metafísicos ou não).
Outrossim, o que seria justificado em termos cognitivistas, teleológicos,
utilitaristas ou deontológicos pode ser colocado em xeque através de uma
atitude cética em direção a um não-cognitivismo, por exemplo, quando negamos a
atribuição de processos cognitivos para explicar nossa indignação moral,
repúdio ou reprovação de alguma prática social. Afinal, haveria como justificar a ética através de
critérios normativos objetivos, cognitivos, mesmo que não partíssemos de
concepções dogmáticas, religiosas
ou realistas (por exemplo, de que "há fatos morais")? Por outro lado,
parece que não haveria como falar de ética sem pressupor a vida social e
política dos seres humanos: a ética é desde sempre um subconjunto da filosofia política, um
correlato (natural, transcendental
ou socialmente construído) do "político", na inevitável vida
societária fática em cumplicidade com o Estado e seus arranjos institucionais.
Mesmo os utilitaristas e contratualistas (portanto, não apenas os
comunitaristas, mas até mesmo liberais e universalistas
tachados de "individualistas") reconhecem que a ética é correlata a
uma dimensão coletiva, social (da comunidade, das tradições e instituições
sociais, políticas e econômicas). Hobbes, Locke, Mill, Rousseau, Kant e Hegel são alguns dos
pensadores morais que propuseram diferentes modos de justificar filosoficamente
a moral e relacioná-la com a política e com a dimensão social da existência
humana. (Oliveira, 2003)
Em todas essas acepções ou
definições imagináveis do que seja normativo
temos um desafio de conjugar uma compreensão do que seja social, nos termos de uma epistemologia social ou de uma teoria
crítica da vida social, que acreditamos ser objeto de uma investigação
interdisciplinar. Com efeito, nosso
programa de pesquisa interdisciplinar tem procurado explorar três eixos de
forma mais ou menos independente, ao mesmo tempo em que investiga se há alguma
correlação entre eles:
1. normatividade ético-social: esp. teorias da justiça
2. epistemologia das ciências sociais: e.g., teoria crítica,
epistemologia moral, epistemologia social
3. modernidade: e.g., ethos social moderno, ethos democrático
brasileiro
Nesta investigação, devemos
explorar dois problemas que unem a concepção moderna de liberdade (e seus correlatos
iluministas de autonomia, emancipação e progresso) a formulações empíricas,
analíticas e continentais das ciências sociais e do naturalismo em torno do
problema da normatividade, à luz de textos representativos de pensadores
contemporâneos, tais como Jürgen Habermas, Robert Brandom, Jesse Prinz e Axel
Honneth. Em particular, trata-se de investigar a articulação entre
normatividade epistêmico-teórica e prático-moral e o problema do dualismo e
monismo em filosofia da mente.
2. Desde Hume, costuma-se
entender a normatividade como uma concepção prescritiva (em termos de ought), que não pode ser inferida a
partir de premissas ou de constatações descritivas (sobre o que há ou o que é, is). Inicialmente desenvolvemos essa
linha de pesquisa em função do problema ético da justificativa de proposições
morais prescritivas (tanto em termos metaéticos quanto ético-substantivos e
aplicados). As contribuições de Rawls e Habermas para as suas respectivas
formulações do "equilíbrio reflexivo" e da "teoria do agir
discursivo" para uma teoria da justiça e uma teoria do mundo da vida
social balizaram as nossas pesquisas em filosofia social nos últimos quinze
anos. (Oliveira, 2011) Uma conclusão provisória se identifica como uma versão
do "construcionismo social mitigado", cujas premissas e teses
provisórias podem ser elencadas de forma a elucidar um "perspectivismo
pragmático-formal": anti-intuicionista, anti-realista,
semântico-pragmático, contextualista.
Cremos que, como mostraram
Dewey, Rawls, Habermas e Honneth, o propósito maior da ética não é estabelecer
princípios morais universais mas resolver problemas práticos, no sentido
aristotélico de praxis e de práticas sociais intersubjetivas, culturais,
interpessoais e institucionais –por exemplo, nas relações entre seres humanos
em família, associações, organizações, sociedade e instituições sociais de uma
maneira geral. Neste sentido, a interface entre bioética, ética aplicada e
biotecnologias favorece uma maior aproximação multidisciplinar e
interdisciplinar entre a Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas,
particularmente em torno de questões sobre Linguagem, Memória, Pensamento e
Evolução Social. Tem sido particularmente importante para a Filosofia da Mente
propor uma concepção naturalista que viabilize a articulação entre filosofia
teórica (Epistemologia, Lógica e Filosofia da Linguagem) e filosofia prática
(Ética, Filosofia Social e Filosofia do Direito), evitando formulações a priori
ou de uma philosophia prima (e.g.,
metafísica dogmática), de forma a reconhecer as contribuições das ciências
cognitivas para a filosofia. Nas palavras de Patricia Kitcher,
Aproximando-se
dos pronunciamentos das ciências, os naturalistas compreendem os membros da
nossa espécie como sistemas cognitivos altamente falíveis, produtos de um longo
processo evolutivo. Como poderiam as nossas faculdades e limitações biológicas
e psicológicas não ser relevantes para o estudo do conhecimento humano?
(Kitcher, 1998, p. 34)
Segundo Habermas, uma versão
fraca ou mitigada de naturalismo seria a única viável de acordo com uma
pragmática formal que viabilize um universalismo moral em resposta ao
relativismo cultural, onde a religião e a moral podem ser compreendidas
enquanto representação social coletiva de um desideratum
normativo (de forma análoga a um certo relativismo moral). (Habermas, 2007). Neste caso, a religião e a moral se constituem em
"exemplos de correlatos não-explicitados do mundo da vida, na medida em
que mecanismos sutis de internalização, assimilação, sublimação, repressão,
castração, domesticação, racionalização e auto-engano se justapõem e se
complementam no complexo processo de reprodução social". Num certo
sentido, somente uma concepção coerentista poderia dar conta de um sistema de
crenças que se mantêm em equilíbrio reflexivo na própria busca de uma
justificação epistêmico-normativa.
Propomo-nos a reexaminar
problemas de normatividade e naturalismo na interface entre abordagens
metaéticas e de filosofia da mente de forma a tornar relevante para uma
releitura teórico-crítica da filosofia social (esp. em autores como Habermas e
Honneth) abordagens da filosofia analítica, particularmente em epistemologia
social e neurociências. Para tanto, servimo-nos da instigante contribuição de
Jesse Prinz sobre o inatismo e a origem biológica das emoções e dos sentimentos
morais. A nossa hipótese de trabalho é que o intuicionismo ético, assim como o
realismo moral e o quaisquer versões de absolutismo ético, se mostra
insustentável quando abandonamos uma abordagem meramente metaética e procuramos
dar conta de todas as variáveis exigidas para uma reformulação satisfatória do
problema da normatividade ético-moral, em particular na sua concepção de
natureza humana e do problema do livre arbítrio ou da liberdade (compatibilismo
versus determinismo). Somos obrigados
a abandonar uma abordagem meramente metaética ou qualquer forma de solipsismo
metodológico se queremos levar o problema ético-normativo a sério e evitarmos
formas sutis de autismo acadêmico ou de patologias sociais. De resto, a
liberdade pode ser entendida não apenas como uma ideia (no sentido kantiano ou
hegeliano do termo) mas como uma experiência histórica social complexa, cuja
negatividade e reflexividade teriam sido decerto exploradas por filósofos
modernos e contemporâneos (de Hobbes a Habermas), mas cuja normatividade
jurídico-política deve ser reconstruída a partir da gramática moral de nossas
lutas pelo reconhecimento (Honneth).
Num outro registro, Prinz
parte de uma teoria empirista das emoções –inspirada no Treatise of Human Nature de David Hume— para reconstruir o que
seria uma teoria sentimentalista da moral: "Moral psychology entails facts
about moral ontology, and a sentimental psychology can entail a subjectivist
ontology."(Prinz, 2004, p. 8) Assim como Habermas e Honneth, Prinz rejeita
versões metafísicas, reducionistas e metodológicas do naturalismo forte (ou
fisicalismo) para reabilitar um naturalismo de transformação (transformation naturalism, i.e. "a
view about how we change our views") que pode ser sistematicamente
revisado à luz de descobertas científicas e de resultados das ciências
empíricas do comportamento, segundo um holismo quineano.
Prinz chega, assim, a
enunciar as três metas programáticas de sua pesquisa interdisciplinar:
The
first is to provide empirical support for a theory that was first developed
from an armchair. The second is to add some details to Hume’s theory, including
an account of the sentiments that undergird our moral judgments, and an account
of the ontology that results from taking a sentimentalist view seriously. My
third goal is to show that this approach leads to moral relativism. Hume
resisted relativism, and I argue that he shouldn’t have. I also investigate the
origin of our moral sentiments, and I suggest that Nietzsche’s genealogical
approach to morality has much to contribute here. The resulting story is half
Humean and half Nietzschean, but I take the Nietzschean part to fit naturally
with the Humean part.(Prinz, 2004, p. 176)
O convencionalismo parece,
dessa forma, fadado a um relativismo moral que solapa a questão da força
normativa de nosso agir e de nossa vida social. O problema da normatividade
dentro de um programa naturalista de pesquisa social parece ser particularmente
interessante e instrutivo quando é reformulado através de questões que lidam
com a evolução social e histórica das sociedades e grupos sociais humanos,
dependentes de processos de aprendizagem, memória e linguagem, em contraste com
a evolução propriamente biológica da espécie. De resto, permanece uma aporia
inerente a toda contraposição entre natureza e cultura, inevitavelmente
associada a dualismos entre o sensível e o inteligível, o empírico e o
transcendental. Com efeito, ao buscar destranscendentalizar sua reconstrução do
materialismo histórico, Habermas parece terminar abandonando um projeto de
pesquisa promissor sobre a evolução social, o desenvolvimento societário e a
dinâmica de processos históricos civilizatórios, após haver distinguido uma
lógica de desenvolvimento moral independente, guiada por questões lingüísticas,
semânticas e pragmáticas, em interação com atividades de produtividade
inerentes à divisão social do trabalho. Esse projeto foi, todavia, retomado em
escritos tardios e com a querela naturalista, em particular, em torno da
questão da liberdade humana; podemos agora revisitá-lo de forma a reavaliar o
problema da normatividade à luz de pesquisas em evolução sociocultural e
memética. Cremos que seria possível esboçar e explorar tais linhas de pesquisa
em um programa de pesquisa interdisciplinar de filosofia social, neurociências
e filosofia da mente, definindo destarte o problema da normatividade
enquanto problema prático-teorético e objeto por excelência de uma teoria do
social (ou de um Tractatus
practico-theoreticus).
3. De acordo com Christine Korsgaard, a normatividade moral é paradigmática do problema filosósfico
da normatividade em geral, precisamente
devido ao fato de ser definida em termos prescritivos. Como Korsgaard observa em suas Tanner Lectures,
...ethical
standards are normative. They do not merely describe a
way in which we in fact regulate our conduct. They make claims on us:
they command, oblige, recommend, or guide. Or at least, when we invoke them, we
make claims on one another. When I say that an action is right I am saying that
you ought to do it;
when I say that something is good I am recommending it as worthy of your
choice. (Korsgaard, 1992,
p.22)
Ela procede então a um questionamento sobre outros
conceitos fundamentais da filosofia que apresentam uma dimensão normativa:
conhecimento, beleza e significado, assim como as virtudes e a justiça, que
também pressupõem uma fundamentação ou justificativa que assegurem a sua
legitimidade. Tanto para Kant quanto para Hume, observa
Korsgaard, a força normativa é o que determina a força motivacional e não o
contrário (motivational force is derived
from normative force, rather than the reverse). Mesmo não sendo óbvio que
possamos discerni-lo em Hume,
it is here that there appears to be conceptual
space for a kind of motivation that stands between Hume’s own categories of
natural and artificial motivation. For Hume’s argument in fact trades on two
slightly different senses of non-natural: motives can be non-natural in the
sense that they cannot be described without reference to normative notions such
as justice and property, or they can be non-natural in the sense that they are
dependent on the moral sense. (Korsgaard, 1992, p.
24)
Korsgaard examina várias concepções de fontes de normatividade (no
sentido de fornecer razões para fazer algo) de forma a mostrar as limitações de
modelos voluntaristas, realistas e reflexivos para dar conta da força normativa
que deve motivar a ação moral autônoma, concebida em termos kantianos. O
problema normativo ou
justificatório, ao contrário do problema explanatório que apenas descreve
como considerações morais nos
influenciam, consiste em justificar
por que devemos efetivamente nos conformar a certo curso de ação, ou seja,
fazer X e não Y, a fim de satisfazer as exigências que fazem do nosso agir uma
ação moral. Segundo Korsgaard, embora a reflexividade
normativa seja uma condição necessária para que uma ação seja moral, como bem
antecipou Hume, ela não é suficiente e deve ser justificada em termos de
publicidade (Öffentlichkeit), como
propôs Kant em sua concepção de autonomia moral e política. Seguindo a
formulação wittgensteiniana em contraposição a uma linguagem privada, Korsgaard
propõe uma articulação entre o pressuposto do significado enquanto conceito
normativo (desde uma perspectiva lógico-semântica) e a sua correta utilização
pelos falantes e membros de uma comunidade:
1.
Meaning is a normative notion.
2.
Hence, linguistic meaning presupposes correctness conditions.
3.
The correctness conditions must be independent of a particular speaker's
utterances.
4.
Hence, correctness conditions must be established by the usage conventions of a
community of speakers.
5.
Hence, a private language is not possible. (Korsgaard,
1997, p. 136-38)
Korsgaard faz uma importante distinção entre
versões simplistas do realismo moral (que apenas rejeitariam a atribuição de
valor de verdade a juízos morais, como fazem não-cognitivistas, seguindo os
emotivistas e expressivistas do início do século XX) e a pressuposição de que
fatos morais normativos existem independentemente de sujeitos que os
representem, formulem ou construam. O construtivismo de inspiração kantiana
(como seria formulado por Rawls e aprimorado e reformulado por O'Neill, Pogge e
pela própria Korsgaard) serviria precisamente para resgatar tal concepção
normativa da chamada falácia naturalista, que consistia, desde Moore, em
permitir que se reduzisse o significado de termos normativos como
"certo" ou "bom" (right,
good) a termos não-normativos ou
naturais. Não seria apenas questão de uma normatividade reflexiva, mas de que a
própria prática social, moral, política. seja reflexiva, mais ou menos como
Rawls a configurou em sua proposta de calibrar nossos juízos em equilíbrio
reflexivo. O construtivismo seria, portanto, tomado aqui como uma concepção
normativa alternativa capaz de solucionar um problema prático, aparentemente
insolúvel em pesquisas metaéticas em torno do realismo moral:
Moral realism, then, is the view that
propositions employing moral concepts may have truth values because moral
concepts describe or refer to normative entities or facts that exist
independently of those concepts themselves (Korsgaard, 1997, p.100)

4. Assim, a leitura e releituras do Treatise de Hume nos oferece diferentes
interpretações e possibilidades de conceber o que está em jogo, afinal, no
problema prático-teorético enquanto problema filosófico por excelência da
normatividade. Ao contrário de leituras que acabam por fazer de Hume um cético
ou não-cognitivista moral, outros intérpretes tentam reabilitar uma leitura
cognitivista de Hume. Também há uma grande polêmica quanto ao internalismo ou
externalismo da filosofia moral humeana. De acordo com Michael Smith, trata-se
antes de mais nada de reconciliar a natureza de razões normativas (normative reasons) com suas correlatas
razões motivadoras (motivating reasons).
Recapitulando o quarto capítulo de seu seminal estudo The Moral Problem, Smith pode assim
resumir o mapeamento conceitual que fôra estabelecido:
Normative
reasons are considerations, or facts, that rationally justify certain sorts of
choices or actions on an agent's behalf. They are propositions of the form
"Acting in such-and-such a way in so-and-so circumstances is desirable."
Motivating reasons, on the other hand, are psychological states with the
potential to explain an agent's action teleologically, and perhaps also
causally.(Smith, 1997, p. 87)

As razões normativas, se houver uma ou
mais, são sempre objetivas e práticas. Segundo Smith, são
razões objetivas no sentido de que, através de um processo de
conversação, envolvendo a reflexão e o argumento racionais, somos capazes
de chegar a uma resposta para a pergunta: O que nós
temos razão normativa que fazer se estamos em
circunstâncias tais e tais? Nossas respostas a esta questão,
desde que tenhamos refletido corretamente, vai ser sempre a mesma:
Facts
about what we have normative reason to do are constructed facts: they are facts
about the desires we would all converge on if we were to come up with a
maximally informed and coherent and unified set of desires. The pressure toward
coherence is not so much explained as assumed. Different sets of desires we
might have simply can make more or less sense. (Smith, 1997, p. 97)
Grosso modo, Smith crê que os
fatos morais devem ser analisados em termos
de fatos sobre as razões normativas, de forma a serem
pensados como subordinados a
exigências de praticidade: a excelência de razões normativas é que
deve, no final, forçar-nos a admitir que foi pensando
em fatos morais como fatos sobre tais razões
normativas que fomos levados a agir moralmente. (Smith, 1997, p. 117)

5. De acordo com o inferencialismo, ao seguir regras devemos adotar uma
atitude normative que transcende o indivíduo, estados mentais psicológicos ou
subjetivos, mas que leve em conta toda uma dimensão institucional social da
própria linguagem e de seus falantes. Este sentido semântico-pragmático foi
apropriado por Brandom e Habermas, independentemente, em suas respectivas
concepções de pragmatismo inferencialista e pragmática formal. Como Parfit e
Vogelin mostraram de maneira assaz convinvente, a normatividade ético-moral é
fundamentalmente robusta e deve importar tanto quanto ações morais ou práticas
sociais envolvidas. Como Peregrin comentou acerca de Brandom,
the
basic gears of the underlying communal machinery are the deontic statuses of
commitment and entitlement. This way of approaching the speech acts leads to a
kind of pragmatics which is essentially normative: it characterizes the speech
acts in terms of the kinds of rules that govern them and in terms of those
changes of normative statuses of the participants of communication which they
bring about. Participation in linguistic communication essentially involves
scorekeeping. Semantics, then, is in effect nothing else than a theory of roles
conferred on linguistic tokens by the rules, i.e. of the ways in which playing
these tokens is capable of changing the deontic statuses of the player and her
companions.(Peregrin, 2012, p.72)
Para
responder à velha questão "como devemos viver?" Habermas e Brandom logram articular uma normatividade
pragmática num contexto de práticas sociais pós-seculares, onde questões
epistêmicas podem ser levantadas sem nenhuma expectativa que transcenda a
cognição racional de estados de coisas. A pragmática da teoria crítica pode ser
aproximada, neste sentido, de uma reformulação das dimensões sociais da
epistemologia.
Em nota parentética, lembramos que Goldman
divide as concepções correntes de epistemologia social em três tipos, a saber:
(1) revisionismo, (2) preservacionismo e (3) expansionismo. As duas segundas
apenas se qualificam para o que Goldman considera epistemologia social num
sentido que não rompe com o sentido de atividade epistêmica e que permite que
sejam consideradas ramos fidedignos da epistemologia (bona fide branches of epistemology) (Goldman, 1999, p. 19)
Sob a rubrica do revisionismo, Goldman inclui
concepções pós-modernas e desconstrucionistas, além do chamado construcionismo
social (social
constructionism), que tendem a reduzir questões epistêmicas e
cognitivas a efeitos de processos sociológicos, sendo a própria verdade uma
construção social. Tem sido um dos objetivos da minha pesquisa em Filosofia
Social mostrar em que sentido o construtivismo ético-político (Rawls) e a
reconstrução racional (Habermas) podem ser tomados como instâncias
metodológicas de um construcionismo social mitigado, na medida em que ambos
preservam a ideia de objetividade e de que podemos articular em termos
cognitivos a normatividade moral. Ao contrário do relativismo, niilismo e
ceticismo ético-morais associados ao revisionismo, creio que podemos responder
aos desafios do relativismo cultural e do pluralismo perspectival de contextos
semânticos diferenciados sem abrir mão de uma concepção de normatividade pela aproximação
de novas interfaces entre naturalismo e cultura. Assim como novas reflexões
sobre o contextualismo permitem um reexame da relação entre cognição e
justificativa à luz de dimensões e conceitos práticos ou pragmáticos que dizem
respeito a um agente epistêmico concebido de forma não-solipsista,
não-transcendental e não-abstrata, creio que podemos seguir Goldman em seu
programa de pesquisa epistemológiico-social na busca de justificativas e
evidências, junto a processos de formação de crenças (preservacionismo) e suas
razões normativas para serem seguidas e mantidas.
Como nem sempre temos acesso ao que poderia ser carcterizado como uma
"crença verdadeira" ( true or categorical belief), podemos recorrer à
alternativa mais próxima, precisamente pelo fato de poder contar com evidência
ou testemunho socialmente produzido, ou com uma crença que adquire destarte um
maior grau de credibilidade (a high degree-of-belief, HDOB). Pode-se ainda expandir os círculos de normatividade epistêmica por adjudicação. Em todo caso, a epistemologia social prima pela coerência discursiva, de forma que o conhecimento, a sociabilidade e a normatividade nos remetam a justificativas razoáveis e eficientes para as nossas crenças.

Saber e sabor, segundo um sentido etimológico que foi preservado em
nossa vernácula, podem determinar, em termos empiristas, o sentido
evolucionário da experiência de um ser que se questiona, se preserva, se adapta
e deseja sobreviver para continuar se desenvolvendo reflexivamente. A sympathy humeana permite tal
entrelaçamento entre o cognitivo e não-cognitivo no ato mesmo de pensar e
sentir como ente que se identifica pela adaptação e transformação de seu
próprio meio. O ser humano tal como o conhecemos hoje, o Homo sapiens sapiens, tem mantido mais ou menos a mesma
configuração anatômica ao longo dos últimos 50 mil anos, assumindo que a
espécie humana Homo sapiens emergiu
há aproximadamente 200 mil anos e o gênero humano não teria mais de dois milhões
e meio de anos.(Leakey, 1997) Portanto, a grande evolução qualitativa do ser
humano é sociocultural, drasticamente marcada pela inovação tecnológica,
sobretudo com o desenvolvimento da linguagem, da escrita, do raciocínio, da
lógica e de técnicas que permitiram uma maior abstração racional de suas
aptidões imagéticas e simbólicas, na terminologia brandomiana, tanto da
senciência (animal) quanto da sapiência (humana). Para Habermas, o desenvolvimento evolutivo do primata
antropóide se deu "a partir de um suposto antepassado comum ao chimpanzé e
ao homem [sic], através do Homo
erectus até o Homo sapiens".(Habermas, 1990, p.114) Tal
antepassado comum, o homínida, gênero supostamente pré-humano, de onde
teria emergido o Homo sapiens, pela conjugação feliz de mecanismos de
evolução biológica com mecanismos de evolução sociocultural. É com a emergência
do Homo sapiens que a evolução muda seu telos orgânico-cultural, na medida em que começa a ser determinada
por mecanismos predominantemente sociais:
...no limiar que introduz ao Homo sapiens é que
essa forma mista orgânico-cultural da evolução cede lugar a uma evolução
exclusivamente social. Cessa o mecanismo natural de evolução. Não nascem mais
novas espécies. (Habermas, 1990, p. 114).
Seguindo sua concepção dual
de perspectivas societais-sistêmicas, Habermas logra destarte integrar os
últimos resultados de pesquisas empíricas do naturalismo (em biogenética,
neurociências, inteligência artificial, ciências cognitivas, biologia
molecular) aos legados filosóficos e culturais tradicionalmente associados a
reflexões sobre a normatividade inerente a relações intersubjetivas do mundo da
vida. Se, por um lado, Habermas quer evitar uma redução dos agentes morais e
atores sociais a meros clientes de um sistema reificador de mundos sociais, por
outro lado, ele também procura evitar as aporias kantianas de concepções
normativas como a do equilíbrio reflexivo rawlsiano. Ademais, as formas
comunicativas desempenham, para Habermas, um papel catalizador e revitalizador
da própria concepção fenomenológico-hermenêutica de mundo da vida. Como não há
socialização humana sem razão e agir comunicativos, na medida em que estes
constituem o próprio meio (medium) para a reprodução de mundos da vida (Habermas, 1981, p. 337), a interação orgânica entre consenso
normativo e sistema institucional inerente a processos decisórios de uma
democracia deliberativa nos remete desde sempre a uma correlação entre
linguagem, ontologia e intersubjetividade. A minha pesquisa se insere,
portanto, num âmbito mais amplo de questionamento filosófico, a saber, se ainda
e em que medida podemos recorrer de modo consistente e defensável a uma
argumentação quase-transcendental como sugere Habermas. Denomino tal postura,
provisoriamente e faute de mieux, de perspectivismo semântico-transcendental
para caracterizar a sua pragmática formal e supostamente não-transcendental no
sentido robusto de fundamentação última em Apel ou no problemático "fato
da razão" kantiano. Seguindo uma
intuição de Hans Joas em sua resenha da coletânea de Habermas "Entre
Naturalismo e Religião" ("Die Religion der Moderne", Die Zeit
13.10.2005) creio que todo o seu projeto pós-metafísico tenta dar conta da
normatividade correlata aos horizontes do observador e do agente moral / ator
social, desde as investigações seminais sobre a lógica das pesquisas sociais no
final dos anos 60 até as suas formulações de teorias discurisivas da democracia
e do direito nos anos 90. De acordo com Habermas, a questão da normatividade
moral (formulada pela ética do discurso) deve ser articulada com a questão
social e política da institucionalização de formas de vida, na própria
concepção de um modelo integrado diferenciando o mundo sistêmico das
instituições (definido pela capacidade de responder a exigências funcionais do
meio social) do mundo da vida (i.e., das formas de reprodução cultural,
societal e pessoal que são integradas através de normas consensualmente aceitas
por todos os participantes). A grande questão que motiva tal modelo dual da
sociedade é, para Habermas, a de dar conta dos complexos processos de
reprodução social --material e simbólica-- em seus diversos níveis de
integração social, reprodução cultural e socialização interpessoal em face de
mecanismos estruturais de controle --notavelmente, poder e dinheiro--, tais
como os encontramos hoje na chamada globalização dos mercados econômicos e
financeiros. Habermas procura, ao mesmo tempo, evitar um determinismo econômico
(da Überbau pela Unterbau, na terminologia marxista) e acatar as contribuições
sociológicas (em particular, de Weber, Durkheim e Parsons) para uma compreensão
dos processos de diferenciação social, cultural e política, sem incorrer em
formas sutis de funcionalismo. A hipótese de trabalho que guia nossa
investigação é mostrar em que medida a concepção habermasiana de mundo da vida
logra preservar o conceito kantiano de autonomia num nível público de
normatividade e universalizabilidade, ao justificar a integração e
diferenciação de instituições tais como a família, a sociedade civil, o estado
e organizações governamentais e não-governamentais, com relação aos subsistemas
econômicos, políticos e administrativos. O conceito de Lebensform é
usado nas Investigações num sentido que corrobora essas premissas,
afirmando tanto o embasamento sócio-institucional das regras quanto seu caráter
infinito e normativo derivado de seu significado. Nisto mesmo consiste, segundo
Bloor, o determinismo e finitismo de significado (meaning
determinism/finitism) em Wittgenstein, no sentido de constatar que o
significado, pelo que pressupõe no uso e treinamento inerentes a uma forma de
vida, é um fenômeno social. Assim como não há linguagem sem jogo de linguagem,
o uso de linguagens é fundado em situações, contextos, meios de vida humana:
"imaginar uma linguagem significa imaginar uma forma de vida (eine
Sprache vorstellen heisst, sich eine Lebensform vorstellen)".(PU § 19)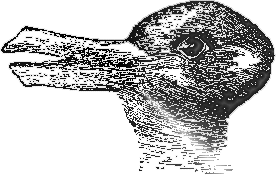
A pretensão habermasiana de
realizar a autonomia pública é não somente embasada no projeto kantiano de
autonomia moral, mas segue o seu ideal de formação da pessoa moral através de
uma reformulação discursivo-intersubjetiva da educação, do aprendizado e da
reprodução sociocultural do indivíduo livre, que se reconhece como tal pela
liberdade e igualdade cultivada junto ao seus semelhantes. Que o ser humano
deva se tornar uma pessoa moral, portador de direitos e deveres numa insociável
sociabilidade, eis aqui o grande projeto emancipatório da modernidade
esclarecida-- projeto este inacabado e que nos desafia, segundo Habermas, para
além de nossos parâmetros de identidade nacional, reprodução cultural e
integração social. O projeto emancipatório da modernidade reflete a pedagogia
política do século XVIII, com sua ênfase na subjetividade individual e no
progresso moral da sociedade. As alternativas românticas de uma educação
estética como a de Schiller e de uma pedagogia cívico-religiosa como a de Hegel
não satisfazem, segundo Habermas, às exigências de uma nova fundamentação da
subjetividade num reflexo comunicativo para além de uma estetização da
autonomia moral e de uma objetificação reflexiva do Espírito. Habermas crê que
o conteúdo normativo da modernidade é um legado da universalizabilidade
racional, como atesta a própria racionalização do mundo da vida, através de
suas estruturas lingüísticas diferenciadas nos domínios de referência objetivo,
social e subjetivo. Assim, se opera uma separação das esferas de valor
culturais e da sociedade com relação, por exemplo, à normatividade jurídica. A
educação moral do ser humano e do cidadão moderno se dá como uma individuação
através da socialização. Se interesses não-universalizáveis não podem servir de
base para a justificação de normas, estas só serão válidas quando forem objeto
de um consenso resultante de um processo discursivo prático. O processo de
aprendizado consiste precisamente na co-constituição intersubjetiva do sujeito
em sua interação reflexiva com o mundo (das coisas, das normas e das vivências)
nos diferentes níveis de um mundo da vida que desde sempre o precede enquanto
horizonte de significações não tematizadas. A teoria discursiva do agir
comunicativo visa, antes de mais nada, a dar conta do complexo fenômeno da
reprodução social em sociedades marcadas por crises sistêmicas e pelas
patologias do capitalismo tardio, decorrentes sobretudo da colonização
sistêmica do mundo da vida, gerando uma falta de sentido, segurança e
identidade.

O giro lingüístico-pragmático rompe com o modelo kantiano da
subjetividade transcendental, na medida em que rejeita a tese dos dois mundos e
a perspectiva monológica do paradigma da consciência. Mesmo assim, creio que o
modelo habermasiano permanece fiel ao princípio kantiano de
universalizabilidade para justificar de uma maneira quase-transcendental a
normatividade do agir comunicativo. programa originário de resgatar uma
dimensão normativo-comunicativa na sua idéia de educação universitária, para
além de uma mera redução estratégica ao saber instrumental e ao desenvolvimento
de novas tecnologias. Minha hipótese de trabalho é que a tese central da filosofia
política de Habermas como um todo, a saber, que o "projeto inacabado da
modernidade" reside no programa emancipatório do Esclarecimento (Aufklärung, Enlightenment, Lumières)
levado a cabo por uma teoria discursiva do agir comunicativo, é inseparável de
uma pedagogia política de inspiração kantiana que o aproxima do pragmatismo
político-liberal (Peirce, Dewey, Rawls, Kohlberg, Bernstein, Rorty). Assim como
textos do final dos anos 60 e 70 (sobretudo a já citada Lógica das Ciências Sociais e Para
a Reconstrução do Materialismo Histórico) podem guiar nossa leitura de suas
obras primas dos anos 80 e 90 --a Teoria
do Agir Comunicativo e Facticidade e
Validade--, a idéia habermasiana da democratização da universidade pelo
embate contra o autoritarismo e a favor de uma razão constitucional inclusiva
norteia o seu programa de uma teoria discursiva da democracia capaz de superar
o nacionalismo étnico e os desafios do capitalismo tardio. Todo o projeto de
uma terceira via, entre o liberalismo e o republicanismo, entre o capitalismo
consumista e o socialismo de estado, nos remete certamente à crítica radical do
autoritarismo levada a cabo por Horkheimer nos anos 40 e 50 em suas incansáveis
denúncias.
Como Brandom observa, o desenvolvimento de concepções normativas do
significado e conceito se deu a partir da recepção de Kripke e sua apropriação
crítica do argumento da linguagem privada no segundo Wittgenstein.(Brandom, p.
589) Segundo Brandom, a normatividade intrínseca do significado é o que nos
permite tornar explícito o significado das premissas implícitas em inferências
(dedutivas) quando, por exemplo, usamos conceitos cujo conteúdo é a atribuição
de conteúdo conceitual, visto que a linguagem é e deve ser pública. O critério
de correção é externo, pois a única maneira de decidir pela correção ou
incorreção do uso de uma expressão é através da suposição de que existem outros
usuários da linguagem que compartilham os mesmos significados e, que, portanto,
são capazes de indicar se o uso é adequado ou não.
De acordo com Prinz, em Furnishing the Mind, trata-se de
argumentar que "conceitos são tipos procuradores (proxytypes, i.e. tipos autorizados para agir no lugar de outros) ou
construções perceptualmente derivadas e altamente variáveis na memória ativa,
derivadas de redes de memória de longo-prazo que servem como detectores de
instâncias de categorias". O papel e a função de conceitos que, por procuração (proxy),
dão conta de complexos processos de percepção e cognição não incorrem em
nativismo ou inatismo (ao contrário de autores como Chomsky, Fodor e Pinker). Assim como Hume o afirmou no primeiro livro de seu Treatise of Human Nature ("On
Understanding"), Prinz se propõe a revisitar a conjectura sobre a origem
de nossas ideias como cópias de impressões, através de um "empirismo
de conceito"(concept
empiricism), cuja tese
central consiste em afirmar precisamente que "todos os conceitos são
cópias ou combinações de cópias de representações perceptuais" --all
(human) concepts are copies or combinations of copies of perceptual
representations"(Prinz, 2002, p. 108).
Referências:
Robert Brandom,
"Modality, Normativity, and Intentionality," Philosophy and Phenomenological Research, Vol. LXIII, No. 3 (November
2001): p. 587-609.
Robert Brandom, Making it Explicit. Harvard, Mass.:
Harvard University Press, 1998.
Jonathan Dancy, Normativity. Malden, Mass.: Blackwell,
2000.
Alvin Goldman, Knowledge in a Social World. Oxford
University Press, 1997.
Jürgen Habermas, Entre Naturalismo
e Religião. Estudos Filosóficos. Trad. Flavio
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007.
Jürgen
Habermas, Para a Reconstrução do Materialismo Histórico. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Brasiliense,
Habermas, 1990. [1976]
H. L. A. Hart, The Concept of Law. 2nd edition with
Postscript. Oxford: Clarendon Press, 1994. [1961]
Axel Honneth and Hans Joas,
eds. Social Action and Human Nature.
Cambridge: Cambridge
University Press, 1988.
Axel Honneth, Das Recht der Freiheit. Frankfurt:
Suhrkamp, 2011.
David Hume, Tratado da Natureza Humana. Tradução de
Déborah Danowski. São Paulo: Editora UNESP, 2001.
Hans Kelsen, Teoria Pura
do Direito. Trad. de João Baptista Machado. 6a. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2000.[1934]
Richard Leakey, A Origem da Espécie Humana.
Tradução Alexandre Tort. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
Nythamar de Oliveira, "Gadamer, a hermenêutica e a crítica ao
naturalismo: Antirrealismo moral e construcionismo social," in Ernildo
Stein e Lenio Streck (orgs), Hermenêutica
e Epistemologia. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 91-108.
Nythamar de Oliveira, "Teoria Ideal e Teoria Não-Ideal: Rawls entre
Platão e Kant", in Ética e Justiça,
org. Ricardo di Napoli et al. Santa Maria: Editora da UFSM, 2003. p. 95-116.
Jaroslav
Peregrin, "Inferentialism and the
Normativity of Meaning," Philosophia
(2012) 40:75–97, Jesse Prinz, The Emotional Construction of Morals. Oxford
University Press, 2004.
Jesse Prinz, Furnishing the Mind: Concepts and Their Perceptual Basis. MIT
Press, 2002.
Jesse Prinz, Gut Reactions: A Perceptual Theory of
Emotion. OUP, 2004.
Willard V.O. Quine, Word and Object. Boston: MIT Press,
1960.
Peter
Schaber (ed.), Normativity and Naturalism. Heusenstamm: Ontos Verlag, 2004.
Michael Smith, The
Moral Problem. Oxford University
Press, 1997.
Stephen P. Turner, Explaining the Normative. Polity, 2010.
Stephen P. Turner and Philip
Roth (eds.), Blackwell Guide to the
Philosophy of the Social Sciences. Blackwell, 2002.
Enrique Villanueva, Naturalism and Normativity. Califórnia:
Ridgeview, 1993.
YouTube: Neuroscience of Emotions
Jesse Prinz's lecture about morality
Jesse Prinz, "Waiting for the Self"
Jesse J. Prinz on The Limits of Consciousness at the New York Psychoanalytic Society and Institute
J.J. Prinz's Experimental Philosophy
David Chalmers, Science of Consciousness
Conferencia de Jesse Prinz, PUC-Peru: "Emociones y moral"
YouTube: Robert Brandom on pragmatism and language (Part 1)
Robert Brandom on pragmatism and language (Part 2)
Human Ancestry Made Easy
The Evolution of Homo Sapiens
Philosophy and Cognitive Science (Jesse Prinz)
PowerPoint: Steve Levinson, "Disconnect between Intention and Action"
PowerPoint: "Philosophy of emotions"
The Free Dictionary
Luis Rosa, "A question on justification and normativity"
Ernest Sosa, "Epistemic Normativity"
Philosophy of Mind Biblio
Prof. João Teixeira: Site "Filosofia da Mente no Brasil"
Distropia: Blog de Filosofia"
Volume sobre pesquisas interdisiciplinares (cf. artigo de Almeida)
Brain Institute at PUCRS (Instituto do Cerebro)
David Hume Home Page
David Hume Philosophy Pages
SparkNotes: Hume
SparkNotes: Hume's Treatise: Of Morals
"Applied Ethics" Website
Hume Seminar (undergraduate)
Website Epistemologia Moral
Website do Prof. Jesse Prinz
Ficheiro "Tratado"
Wiki on the Treatise
"Treatise" e-book (in English)
YouTube: Cesar Kiraly sobre o Tratado da Natureza Humana (Livro I) de David Hume
Nythamar de Oliveira, Habermas e o Naturalismo
Wikipedia on Cognitive Science
Wikipedia sobre Ciência Cognitiva
YouTube: Daniel Dennett, Consciousness and Free Will
YouTube: António Damásio, Neurociências
YouTube: António Damásio, What role do emotions play in consciousness?
YouTube: Facundo Manes & Ivan Izquierdo, Los Enigmas del Cerebro –Memoria (Parte 1)
Website Ética Geral
Website Habermas
J.S. Mill, "What Utilitarianism is"
J.S. Mill, Utilitarismo
A Filosofia Moral de Immanuel Kant
Filosofia Latino-Americana
Website do Prof. Nythamar
Dr Miguel Nicolelis: Brain Control Brain (YouTube)
Website Filosofia Moderna Fafimc
Hobbes e o contratualismo
Tractatus ethico-politicus
World Social Forum
Adital: Noticias de América Latina y Caribe
The Internet Encyclopedia of Philosophy: Ethics
Stanford Encyclopedia of Philosophy: Affirmative Action
PHIL 3750 Social and Political Philosophy
REL 1220-011 WORLD RELIGIONS and GLOBALIZATION
Critical Theory Seminar: Habermas and Honneth
Liberation Seminar: Latin American Theology and Political Philosophy
In God's Name: Reformed, Catholic, Jewish
Experiments in Philosophical Culture:
Greek Philosophia
Latin Philosophia
Deutsche Philosophie
Philosophie française

|